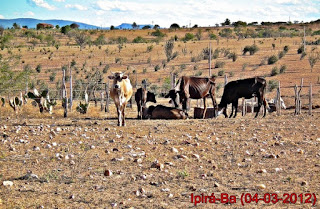António Oliveira Nhaga1
, Ciro de Miranda Pinto2
, Maria Gorete Flores Salles3
, Olienaide Ribeiro de Oliveira Pinto4
, Francisco Acácio de Sousa 5
1Discente do curso de Agronomia da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção-CE, Brasil.
2Professor Doutor do curso de Agronomia da UNILAB, Redenção-CE, Brasil. E-mail:
ciroagron@unilab.edu.br 3Professora Doutora do curso de Agronomia da UNILAB, Redenção-CE, Brasil. 4Professora Doutora no Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias
Sustentáveis (MASTS) da UNILAB, Redenção-CE, Brasil.
5Eng. Agrônomo, mestrando no Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e
Tecnologias Sustentáveis (MASTS) da UNILAB, Redenção-CE, Brasil
RESUMO
A palma forrageira apresenta grande potencial produtivo sendo usada na
alimentação humana e animal, produção de medicamentos, cosméticos, corantes e
na conservação e recuperação de solos. No entanto, apresenta diversas pragas, que
causam danos e prejuízos como a Diaspis echinocacti (Hemiptera, Diaspididae),
conhecido vulgarmente como Cochonilha de escamas. Assim, objetivou-se definir a
concentração de extrato de nim que proporcione o controle da cochonilha de
escama na palma forrageira graúda. O trabalho foi conduzido no município de
Barreira, Ceará. Utilizou-se 5 tratamentos com extratos de nim, sendo: 0, 50, 100,
150 e 200 g/ 1000 mL de água na parcela primária e 4 tratamentos na parcela
secundária com quatro repetições. O ajustamento da regressão foi o polinomial
quadrático a 5% de probabilidade, tendo coeficiente de determinação R2
de 75,69%.
O valor da dose ótima foi 77,07 g de nim por 1000 mL de água o que resultou um
percentual de área da raquete quaternária infestada por cochonilha de escama
máxima de 18,78 %, depois desse nível ocorrem decréscimos do percentual de área
infestada. O extrato aquoso de 200 g nim em pó para 1000 mL de água
proporcionou maior controle da cochonilha de escama na palma forrageira graúda.
PALAVRAS-CHAVE:
Diaspis echinocacti, Opuntia ficus-indica Mill, Semiárido,
Sustentabilidade
INTRODUÇÃO
 |
No ano em que comemoramos 10 anosde seleção a Bahia Red Sindhi disponibilizará21 animais de sua melhor genética.29 DE MAIO A 02 DE JUNHO |
excelente qualidade como alimento energético de alta digestibilidade, e, além disso, constitui-se em estratégica reserva hídrica para os rebanhos, s
endo importante ferramenta no manejo e proteção do solo (LIMA et al., 2015). O emprego de extratos vegetais pode ser considerado como um manejo promissor na proteção das plantas. Além de auxiliar na diminuição das doses e frequência de aplicação de agroquímicos sintéticos, danosos a saúde humana e ao meio ambiente (SANTOS et al., 2013). Uma das espécies mais utilizadas para obtenção de extratos é o nim (Azadirachta indica A. Juss), planta que possui alguns compostos químicos, sendo o principal é a azadiractina, presente em folhas e frutos (MARTINEZ, 2002). O extrato de nim tem sido utilizado para controlar o crescimento inicial de plantas daninhas (ALBURQUEQUE et al., 2015), controle pragas em grãos armazenados como o milho (BORSONARO et al., 2013), controle da mosca minadora (Liriomyza sativae) meloeiro (COSTA et al., 2016), controlando pulgão nos cultivos de brócolis (VIERA; PERES, 2017). Outros inseticidas apresentam potencial no controle de cochonilhas, a exemplo, extratos aquosos de pinhão-manso (HOLTZ et al., 2016), Capsicum frutescens L., associada ao álcool, fumo em rolo e sabão de coco (BRAGA et al., 2017), pimenta do reino (Piper nigrum) com adição de sabão de coco, álcool e água (LOUREIRO et al., 2016). Neste sentido, estudos que ampliem a possibilidade do uso de inseticidas botânicos são promissores e podem auxiliar no manejo de pragas em diversos sistemas agrícolas. Assim, o objetivo deste trabalho foi definir a concentração de extrato de nim que proporcione controle da cochonilha de escama na palma forrageira graúda.
MATERIAL E MÉTODOS
Área experimental
A pesquisa foi conduzida durante os meses maio a julho de 2016, na
fazenda Bom Sucesso, situada no município de Barreira-CE, cujas coordenadas
geográficas são: 4º 17’ 13’’ latitude sul, 38º 38’ 35’’ longitude oeste, sendo a altitude
local de 83,5 m. O clima é classificado como tropical quente semiárido brando, com
o índice de pluvisiovidade de 1.061,9 mm, temperatura média anual de 26º a 28ºC
(IPECE, 2017).
O experimento foi instalado em uma área cultivada com palma graúda (O.
ficus indica Mill), onde foram marcadas as raquetes de ordem quaternária para
aplicação do extrato de nim (A. indica) produzido a partir de folhas previamente
trituradas em forrageira até a forma de pó. Posteriormente foram pesadas em
balança digital e separadas em porções de 50,100,150 e 200g de extrato de nim.
Delineamento experimental
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em um esquema de
parcela subdivida com 5 tratamentos na parcela principal (extratos de Nim 0, 50,
100, 150 e 200 g/ 1000 mL de água) e 4 tratamentos na parcela secundária (tempo
de aplicação) e quatro repetições (Figura 1).
A primeira aplicação do extrato de nim e avaliação por foto foram realizadas
em 27 junho, a segunda avaliação por foto em 4 de julho, a terceira avaliação por
foto foi realizada em 11 de julho e a quarta avaliação por foto foi realizada em 18 de
julho.
A avaliação da eficiência da aplicação do extrato de Nim, foi realizada com
uso das fotos das raquetes de palma forrageira. As imagens das raquetes
quartanárias da palma forrageira foram obtidas com uma máquina fotografia digital
SAMSUNG modelo SMART CAMERA DV150F. As imagens foram descarregadas no
notebook para determinar o percentual de área infestada por de cochonilha de
escama com emprego do software APS ASSESS 2.0 (LAMARI, 2008). A Figura 2
ilustra a utilização software APS ASSESS 2.0 na determinação do percentual de
área afetada em relação à área total da raquete quaternária.
Análise estatística
Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando detectada ou
não a significância pelo teste F a 1% ou 5% de probabilidade, as médias dos
tratamentos qualitativos foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade. Para dados quantitativos empregou-se a análise de regressão para
verificar o efeito das doses de nim no controle da cochonilha. Para tanto, utilizou-se
o ASSISTAT 7,7 betas, Sistema de Análise Estatística da UFCG (SILVA; AZEVEDO, 2016).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resumo da análise de variância do experimento em parcelas subdivididas
consta na Tabela 1. A interação entre Fator 1 x Fator 2, não foi significativa ao nível
de 5% de probabilidade, revelando independência entre esses fatores para
percentual de área de raquete quaternária infestada por cochonilha. Isolando-se o
fator dias de avaliação, constatou-se a existência de efeito significativo a 1% de
probabilidade.
A análise de variância da regressão para área de raquete quaternária
infestada por cochonilha de escama (Tabela 2) em função das doses extrato aquoso
de nim (0; 50; 100; 150 e 200 g nim/1000 mL de água), teve ajustamento ao modelo
polinomial quadrático, significativo ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 2), tendo
coeficiente de